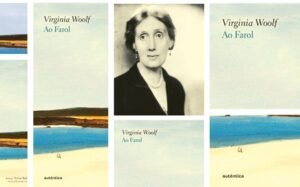Quando meu filho tinha cerca de quatro meses e eu saia com ele na rua, percebia olhares bondosos e sorrisos para nós. Cheguei a comentar isso numa postagem do Facebook. Recebi um comentário de uma mulher mais experiente: estão te parabenizando por cumprir um papel social. Com o tempo, notei que os olhares benevolentes tinham algumas condições. Para ser bem vista, a mulher que tem filhos precisa que seu bebê esteja quieto. Ninguém gosta de bebês chorando ou falando alto. As pessoas também se incomodam com bebês que queiram ser o centro das atenções, e não importa que isso faça parte de seu desenvolvimento cognitivo. Os bebês devem ser maduros e comportados. Já os adultos, veja só, se sentem desconfortáveis se veem uma mãe dando de mamar em público. A lista de condições para se ganhar olhares benevolentes é muito extensa para as mulheres que têm filhos. E só aumenta com o tempo.
Para uma mulher sem filhos receber olhares de bondade, do que ela precisa? Bem, precisa querer ter filhos, pelo menos. E não pode ser muito cedo, porque ninguém aprova uma criança cuidando de outra criança. Não que as pessoas se importem a ponto de ajudar, nada disso. Essa mulher também não pode ser velha demais; existe um tal relógio biológico construído socialmente com engrenagens feitas de crenças cristalizadas ao longo do tempo. Uma mulher que não reserva os melhores anos de sua vida para a maternidade não é bem vista. Talvez ela possa despertar certa piedade, caso esteja tentando e querendo muito engravidar. Mas, ainda assim, os olhares não são de apoio. Geralmente são de dó. Aquela velha e boa piedade, que faz do dono do olhar alguém superior de alguma forma.
Poxa, parece que para que uma mulher seja bem vista pelas pessoas ela precisa seguir um certo caminho. Seguir, jamais escolher.
Escolha consciente
É sobre o direito a escolha que fala o livro de Sheila Heti. Maternidade é um romance meio autobiográfico meio ensaio filosófico, lançado recentemente pela Companhia das Letras. Essa indeterminação quanto ao gênero literário o faz certeiro em seu objetivo: explorar a dúvida sobre a maternidade. E por isso mesmo afirma: a maternidade deve ser uma escolha. Não é um papel social obrigatório a todas as mulheres. Ao longo da leitura, consegui captar algo na escrita de Sheila que me deixou intrigada: não importa muito qual a escolha da mulher, ela sempre será criticada, julgada, diminuída.
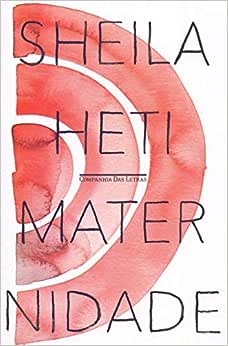
A protagonista desse ensaio-romance-filosófico, que se confunde com a própria autora, é assolada pela indecisão. Está chegando aos 40 anos, vê suas amigas cedendo ao apelo da maternidade, enquanto ela não sabe se é isso mesmo que quer. É interessante como uma mulher inteligente e culta, que teria tudo para ser muito “bem resolvida” ainda assim reluta, insiste em não confiar em seus próprios julgamentos. A resposta sempre esteve com ela, mas toda a reflexão que desenvolve no livro é uma forma de resistir a essa escolha. Esse esforço parece ser enorme. Sempre estamos acostumados a evidenciar os sacrifícios ou sofrimentos em torno da decisão de ser mãe. E é como se a decisão de não ser mãe fosse ao mesmo tempo pouco provável, mas, uma vez decidido, fosse fácil demais.
Não parece ser o que passa a personagem deste livro. Decidir não ser mãe é trabalhoso, exige um esforço de resistência, de lidar com os questionamentos da sociedade, mas também de si própria. E há vergonha, como se decidir por não seguir o curso tido como comum fosse vexatório. Em entrevista, a jornalista Emma Brockes, do The Guardian, diz para Heti que ela também sentiu vergonha por desejar tanto ser mãe. “Talvez se nós duas sentimos vergonha é porque é vergonhoso ser mulher. O que quer que você escolha, você sente vergonha”, respondeu a autora.
Essa incapacidade por definir um caminho de uma vez por todas, o fato dessa decisão se arrastar por anos é o que dá ao livro sua razão de ser. E se todas nós pensássemos bem antes de tomar essa decisão, se não tomássemos a maternidade como uma obrigação natural ou como o curso normal da vida? Essa insegurança é a tônica do livro. A dúvida e seu benefício.
Leia também: Uma Duas (Eliane Brum): para desconstruir as relações, a maternidade e o grito
Poder-saber sobre si
Em meio à sua incerteza, a personagem confia no acaso, jogando moedas e obtendo respostas a perguntas sobre ela mesma, sua vida e a forma como vive. Além das moedas, busca resposta por outras vias, consulta uma médium na rua, tira o tarô… Faz perguntas sobre a decisão da maternidade a todos que encontra, investigando o juízo dos outros, como que para encontrar o fio da meada dos seus próprios. Aos poucos, vai se fortalecendo, vai encontrando o corpo de suas ideias e firmando sua convicção.
Os trechos mais intensos, e que me deixaram mais emocionada, foram suas investigações sobre o passado de sua avó e sua mãe. Sheila destrincha os desejos e fracasso das mulheres que a antecederam na família e com isso traz reflexões importantes: Quais são as tristezas ancestrais que carregamos? Existem medos e propósitos que herdamos, reproduzimos, defendemos, sem nunca ter refletido de verdade sobre eles?
Em alguns momentos, fiquei irritada com a tendência da autora em colocar a maternidade e a vida profissional da mulher em polos opostos, como se um anulasse o outro. Ao longo da leitura, porém, fui percebendo que esse era um dos conflitos da própria personagem. Sua mãe não foi muito presente em sua vida, pelo menos não da forma como a sociedade espera que uma mãe seja, pois se dedicou mais à sua profissão, por isso, mesmo sem perceber, a personagem principal criou essa dicotomia. Gosto da forma como Heti construiu nesse livro o entendimento de que maternidade e vida profissional não precisam, necessariamente, estar em conflito. Gosto do fato desse trauma não ser atrelado à sua decisão sobre ter filhos ou não.
Maternidade real
É óbvio que não deixo de pensar que para diminuir essa discrepância entre vida materna e profissional, é preciso que a mãe tenha uma rede de apoio, é necessário que exista menos cobrança e, principalmente, divisão de tarefas e responsabilidades com o pai. E não posso deixar de citar a idealização e romantização da maternidade. Esse contexto concreto existe, e é por meio dos questionamentos do feminismo que nasce uma forma diferente de lidar com essa condição. A luta feminista, inclusive, deve passar por essa desconstrução dos papéis de mãe e de pai. Então, é bonito que esse fracasso materno, digamos assim, tenha aparecido no livro, porque é muito difícil para quem é mãe equilibrar a dedicação entre as várias esferas de sua vida. Sim, mães não são apenas mães, têm o direito de ser muito mais, embora ser mãe não seja pouco. Ah, e não adianta olhar feio, viu?
Não há nada de errado com a mulher que não tem filhos
Sem dúvidas, o livro de Heti constrói a ideia de que não ser mãe é tão válido e aceitável quanto ser. As duas escolhas possuem suas dores e delícias. Uma mulher que não tem filhos é apenas isso: uma mulher sem filhos. Ela não é problemática, não é egoísta, não é imatura… Não é nada disso que insistem em rotular.

Em entrevista à Roberta Pennafort, do Jornal O Globo, Heti foi questionada: o fato da protagonista se sentir abandonada pela mãe de alguma forma a influenciou a não ter um filho? A autora respondeu: “Eu não acho que decidir não ter um filho é sinal de uma perturbação ou uma patologia. É uma escolha tão positiva quanto a de ter um filho. Não há algo de errado nela; isso nunca me ocorre quando vejo mulheres sem filhos”.
A escolha de uma mulher não é, em si, um julgamento ou crítica ao que outra decidiu fazer. Nas palavras de Heti:
“[…] a mulher sem filhos e a mãe são equivalentes, mas devem ser assim — existe uma equivalência exata e uma igualdade, iguais no seu vazio e iguais na sua plenitude, iguais em experiências tidas e iguais em experiências perdidas, nenhum caminho é melhor, nenhum caminho é pior, nenhum é mais assustador ou menos repleto de medo”.