A pequena ilha é um chamado da escritora Andrea Levy, falecida no ano passado, que ainda ecoa pelo passado, presente e futuro.
A Pequena ilha, grande domínio
O ano era 2020. Após meses lidando com um vírus letal e implementando políticas de isolamento social, as ruas americanas foram tomadas em protesto ao assassinato de George Floyd pelas mãos de uma polícia bruta. 2014, e na Grandiosa Bretanha foi decretado o Ato de Imigração, que afetou o estatuto de cidadania e permanência de inúmeros caribenhos, levando alguns à deportação, mesmo após terem construído uma vida fora das ilhas do Caribe em razão de serviços prestados à Terra Mãe, à Coroa Britânica, durante e após a II Guerra Mundial. O caso ficou conhecido como o escândalo de Windrush, em referência ao navio que transportou milhares de jamaicanos à Inglaterra em junho de 1948 com o sonho de uma vida melhor.
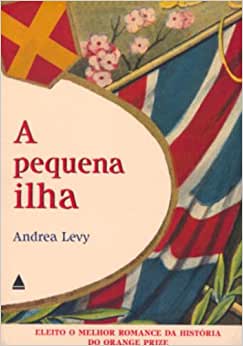
O ano era 1948. Gilbert se preparava para embarcar no S. S. Empire Windrush, deixando para trás não só sua terra natal, a Jamaica, como a mulher com quem havia recém se casado, Hortense, uma professora miscigenada de pele mais clara, orgulhosa de sua boa dicção e pronúncia do inglês. Depois de perder todo o dinheiro que havia guardado no empreendimento mal sucedido de ser produtor de mel e abelhas, Gilbert tomou a decisão de fazer valer a oferta de estudar Direito, que lhe havia sido feita quando se alistou na R.A.F para lutar contra os nazistas. Muito cedo, Gilbert descobriu que sua batalha seria dupla: teria de enfrentar o inimigo comum a ingleses e americanos, e também travar uma luta que dizia respeito só a ele – o racismo.
Em sua divisão da R.A.F, estacionada no norte da Inglaterra, Gilbert ficou encarregado do transporte. Claro, que mais poderia ele, um negro, fazer a não ser continuar como motorista, uma habilidade que possuía desde criança? Mesmo tendo negado que podia dirigir para abrir outras oportunidades de vida, a ele restou a função de condutor. Na Inglaterra, lutando ao lado de americanos, tinha que constantemente responder sobre o lugar que ocupava. Ou, melhor, era chamado a ficar em seu lugar. Dele era exigido que se sentasse na última fila do cinema, distante dos brancos; deveria ter cuidado para não ser agredido ao estar em companhia de uma mulher branca nas ruas e cafés; a ele era negada a possibilidade de realizar seu trabalho porque generais se recusavam a entregar as cargas à sua responsabilidade; ouvia as histórias de oficiais negros que precisavam de passes para poder sair e mesmo para entrar em determinadas cidades e em determinados dias da semana. Gilbert sempre soubera onde ficava a Inglaterra. E sempre se deparava com perguntas sobre sua terra natal: Jamaica, onde é isso? Ou sobre seu estatuto de britânico: mas há negros britânicos?
Leia mais: 17 palestras do TED sobre racismo
E, novamente, o ano era 1948. Seis meses após a partida de seu marido rumo à Pátria-Mãe, Hortense se preparou para também partir. Desde sua lua-de-mel que não via seu marido, o homem que conhecera pouco tempo antes de se casar, mas que prometia tirá-la da Jamaica e acolhê-la em um novo país, em uma casa grande com uma campainha que fazia ding dong. Mas o país era frio. O quarto, pequeno. Na mesma pia, Hortense lavava a louça, os mantimentos e esvaziava os conteúdos de eliminação corporal diária. Um quarto alugado em uma casa em Earling Broadway, oeste de Londres.
Mas é assim que vivem os ingleses? Hortense não parava de perguntar. Por ser filha de um pai branco, sua infância havia sido de melhores oportunidades. Desde cedo, fora levada para viver com os primos de seu pai, tendo sua avó como criada da casa. Cresceu dentro da residência, como uma lady, ao lado do primo Michael, seu melhor amigo e primeiro amor. Mas Michael também precisou partir para a Inglaterra ao se alistar no Exército britânico para enfrentar aquele inimigo em comum. Mas, na verdade, o rapaz fugia de um escândalo envolvendo uma mulher branca, casada, inglesa e dona da escola que recebeu Hortense como instrutora. Afinal, Hortense possuía recursos, era instruída, ia se formar professora e tinha um excelente inglês, de pronúncia inigualável. Porém, bastou a chegada ao porto de Londres para ter suas habilidades testadas e descobrir que ninguém a entendia, poucos a viam, e muitos a julgavam. A jovem queria ser professora na Inglaterra. Mas não a entendiam. Ou a viam. Ou a tratavam como pessoa, como igual. Era imigrante. E negra. E suas qualificações não eram reconhecidas. Era motivo de riso. Seria preciso recomeçar, ainda que entre lágrimas.
Um grande domínio para uma pequena ilha
E foi então que o ano era 1948. Queenie abriu a porta de sua casa na rua Nevern, número 20, em Earling Broadway, e se deparou com uma mulher vestida de branco que carregava consigo uma mala enorme contendo todos os seus pertences. Recém-chegada da Jamaica, Hortense estava no patamar de sua casa falando em um língua pouco compreensível. Seria um dialeto aquilo? E se apresentava como mulher de Gilbert. E parecia vir para ficar. Há muito tempo que Queenie conhecia o jovem jamaicano. Na verdade, desde os tempos em que ele estava estacionado no norte da Inglaterra e ela estava lá com seu sogro, ambos fugindo de uma Londres bombardeada por nazistas. Assim como Hortense anos mais tarde faria, Gilbert bateu em sua porta, trazendo de volta o idoso perdido. Na ausência do marido, Bernard, Queenie tinha que cuidar de seu sogro. Bernard tinha partido para a Índia quando se alistou no Exército e, mesmo quatro anos após o término da guerra, ainda não havia encontrado o rumo de casa. Queenie fora obrigada a alugar quartos na grande casa que habitava para poder sobreviver, na qual acolheu Gilbert, além de outros homens vindos com o Windrush. E teve de enfrentar desconfianças, críticas e ressentimentos dos vizinhos que começavam a ver a rua e o bairro tomados por aquela gente de cor. Gente que não sabia seu lugar.
Mas Queenie, que tinha nome de rainha, sabia o que era o Império Britânico. Ainda menina, havia sido levada para uma feira, em Wembley, e achava que estivera na África. Ali, havia entrado em contato com a primeira pessoa negra que passaria por sua vida. Durante a guerra, quando famílias pobres do leste de Londres perdiam suas casas e precisam ser realocadas e redistribuídas na região oeste da cidade, Queenie esteve disposta a ajudar, a fazer a partilha dos bens do marido para confortar os mais necessitados. Desde antes do final da guerra total, recebia soldados de passagem por Londres, e, dentre eles, um homem bonito, de nome Michael, vindo de uma terra distante, um pequena ilha que mal se encontrava no mapa.
Na pluralidade dos tempos
E o ano era 2004. Ano em que Andrea Levy publicou A Pequena Ilha e deu voz a esses estranhos nascidos nas ilhas caribenhas, as Índias Ocidentais. Colocados diante de um racismo sistêmico e histórico, muitos desses homens e mulheres se calaram e, em um esforço por se adaptar, buscaram a invisibilidade, desconciliando suas vidas. Filha de imigrantes caribenhos, nesta obra anterior ao escândalo do Empire Windrush, Andrea Levy enuncia coisas não ditas, silêncios que são lançados à história, que resultam em desconhecimento, alienação e rachaduras identitárias. Sua obra traz a tensão que se estabelece entre sonhos e expectativas que não se concretizam e os ajustes que as pessoas são chamadas a fazer em nome de convivência entre diferentes. Trata, sobretudo, do trauma vivenciado por esses imigrantes no contato com uma terra prometida que não se realiza plenamente.
A Pequena Ilha rendeu prêmios literários a Andrea Levy, talvez pela beleza e polifonia de sua abordagem de temas difíceis como são os limites nas concessões a serem feitas em nome da luta pela manutenção da identidade. Não é fácil, ainda hoje, falar sobre racismo. Ou sobre identidades. Talvez porque racismo e identidade existam, sobretudo, como uma construção que depende do olhar de outrem; que dependem, portanto, de visibilidade, de se reconhecer em um lugar, em um tempo. E, nesta obra, Levy aposta na polifonia, no deslocamento de lugares para contar a história desses dois casais colocados diante uns dos outros; aposta ainda no tempo e na história para a afirmação de um lugar. Aos poucos, a identidade perdida, assumida, reconhecida, atribuída de cada um dos personagens-narradores vai sendo envolvida na trama de um passado responsável por situar cada um deles no lugar onde estão no presente da história. E hoje, dezesseis anos após a publicação de A Pequena Ilha, ainda somos chamados a ver. E a ouvir. E, talvez, com isso tenhamos a chance de lançarmos nossos olhos para o passado e tentarmos, de alguma maneira, restituir em nós um tempo que não se esgota no instantâneo de um mundo virtual. Para, quem sabe, durarmos. E assim, criarmos futuros.
Caso queira saber mais sobre a obra, recomendo os artigos “Back to My Own Country: An essay by Andrea Levy” e “Small Island: Postcolonials”, escrito por Fatema Ahmed.



