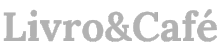Um prólogo feito de cem parágrafos distribuídos em mais de 200 páginas; uma mulher sem um braço diante de uma máquina de escrever sem a letra A; uma caixa com nove fitas cassete contendo a voz da loucura, da poesia e da filosofia de uma mãe morta; a transcrição destas nove fitas em outras mais de 200 páginas; notas de rodapé per saltum maiores do que o som transformado em datilografia; um relatório composto de fios que se entrelaçam ao escuro absoluto do racional e do irracional em outras quase 200 páginas; cópias de um caderninho da filha de um autômato; uma carta escrita por um escritor tão quimérico quanto o livro que se apresenta em sonho: i.e.M., isto é, o manto: a abreviação ecoando como um ser fantasmático ao longo das 624 páginas de “O Manto”, último volume da “Trilogia Íntima” da escritora e filósofa Marcia Tiburi, lançado pela Editora Record.
Como Marcia revelou numa entrevista, seu primeiro mergulho na arte da ficção começou selvagem, com a liberdade e a coragem de quem escreve o que quer do jeito que quer, ainda que esta independência literária seja também intensa reconstrução do imaginário próximo dos desejos mais íntimos. A fantástica, em seu sentido mais profundo, “Trilogia Íntima” foi o que primeiro saiu das gavetas com fundo falso da escrivaninha de madeira da filósofa, e uma primeira fase muito bem aproveitada, enquanto outra ainda se esconde ou descansa no breu dessas gavetas. “Magnólia”, primeiro volume da trilogia e produto de duas versões destruídas que juntas formavam 400 páginas, foi publicado pela primeira vez em 2005, indicando uma imagética mente criadora libertada de si mesma. Não somente este potencial mágico de uma narrativa moderna e filigranada na obscuridade dos sentidos, mas o que ele representa em histórias igualmente obscuras. “A Mulher de Costas” vem logo em seguida, num volume menor, recontando uma lenda ao contrário, e depois de sete anos de trabalho, Marcia apresenta “O Manto”, sua banda de Moebius narrativa cujo peso é tão infinito quanto sua forma inescapável.
Leia também a resenha de “Feminismo em Comum“
O romance, ou “Ornitomance das Berenices”, começa com um prólogo já incomum: são 213 páginas que procuram elucidar o leitor, ou, como a narradora o chama, Sancho, com as razões que a levaram a fazer a decupagem de nove fitas cassete encontradas na casa que herdou da mãe: “É para tornar claro o meu intento e a experiência pela qual passei que me lanço à construção deste prólogo”. Mas a despeito deste desejo de tornar claro seu intento, e também de repetir várias vezes que tem um espírito pragmático, Leda gosta de complicar, de enfatizar que o que temos em mãos não é um livro (“O que temos aqui, embora seja um livro, não é exatamente um livro, apenas algo parecido.”) e que “por sorte aqui não há literatura, deus que nos livre de uma coisas destas”. Tendo encontrado nove fitas cassete num velho armário em que a mãe desconhecida se escondia para contar sua história alucinada, a narradora, através do mesmo jogo de palavras usado por Marcia em “Magnólia”, escreve cem parágrafos que podem ser interpretados também como “sem” parágrafos.
A brincadeira do cem/sem, um significado quantitativo e outro niilista, que leva a ideia contrária de algo inexistente que existe, é uma de tantas outras que aparecem ao longo da história contada por Leda. Ela nos explica, sempre em tom paciente e divagador, que começou a transcrever as fitas quando ouvi-las tornou-se difícil, então a transcrição fez-se necessária para poder montar a história desta mãe, ou seja, através das fitas, a estranha e onírica figura da mãe é destruída e reconstruída, continuamente, com perguntas e respostas encarnadas em novas perguntas.
O prólogo muitas vezes se perde em si mesmo, no labirinto dos pensamentos de quem nos apresenta a ele, numa mistura de fluxo de consciência com monólogo interior. Nem uma nem outra dessas ferramentas da criação literária estão em sua forma mais crua, e sim pelo avesso: o fluxo de consciência é sempre interrompido, esbarra num monólogo interior que é na verdade um diálogo entre um eu preocupado com motivos e outro eu que observa cada um desses motivos. Mais do que um fluxo, os parágrafos são monólogos que dialogam entre si, o que torna a loucura narrativa de Leda ainda mais instável.
Em seguida Leda separa ouvidos e olhos do leitor: aqueles para ouvir as fitas transcritas, estes para seguir o raciocínio e as explicações que ela dá ao longo de notas de rodapé cada vez mais curiosas e enigmáticas. “Livro na claridade ou Livro da trama” expõe tudo o que foi falado por esta figura materna nas nove fitas cassete.
Em quase todas as páginas, as notas de rodapé não são somente indicadas por números ou letras, mas símbolos matemáticos, barras, arrobas, sempre vazados aqui e ali como uma grande ramagem que cresce através das linhas e dentro dos pensamentos expostos, entremeados com siglas e simbologias.
A partir de certo momento, as notas ganham uma espécie de caráter vernacular, em que as palavras ditas pela mãe são dicionarizadas pela filha a seu modo, algumas vezes de forma mais concisa, outras beirando a poesia mais interior de um olhar particular. Cada fita tem seu próprio corpo, umas mais longas, outras mais curtas (a quarta se assemelha a um pequeno romance dentro do romance maior, com mais descrições, narração linear e conflitos, enquanto a quinta se apresenta na forma de uma curta ode.), mas todas versam o mesmo mundo vertiginoso e excêntrico de Berenice, a mãe transformada em palavra reconstruída.
Muito do passado de todas as anti-heroínas não é explicado, ou talvez nada seja, mas é certo que toda tentativa de claridade é feita com a luz negra do mistério indissolúvel. Sancho (o leitor) tem sua atenção sempre dividida entre a fala cadavérica da mãe e o olhar rasteiro da filha, que descobre em dado momento um fator genético unindo-as: a asma.
Deixando a visceral viagem por dentro das labirínticas nove fitas, tem início o “Livro à noite ou Livro da urdidura”, que a própria autora revelou ter sido escrito no período noturno. Aqui a história é mais obscura: temos alguém cuidando de Berenice enquanto prepara um relatório, discursos que misturam literatura, filosofia, excertos e fotos do caderno da menina perdida de “O Manto”, a Pequena Berenice, que na verdade são dos próprios cadernos de Marcia Tiburi, como o que se encontra na quarta capa onde podem ser lidos vestígios do processo criativo do romance, da feitura intelectual deste e de como a escritora explora seus desconfortos para compreendê-los. Esta última parte ainda se passa na casa de Berenice, mas tudo acontece de forma mais rápida, não-datada, nomes se confundem e se acrescentam, o sonho gira até virar do avesso e o manto é rasgado pela carta que fecha o livro.
É esta carta, escrita por Julián Ana para Marcia, que explica toda a loucura da história, toda sombra engelhada, como se o próprio livro, o objeto pesado que lemos através dessa sombra feita de mistério miasmático, finalmente respirasse aliviado. As ranhuras na lombada (de uma encadernação que poderia ser melhor), as 624 páginas e as vozes do romance finalmente silenciam, e a trilogia termina da maneira mais improvável e astuta.
Influenciada por autores modernistas como Osman Lins, Kafka, Beckett, entre outros, Marcia Tiburi resvalou o possível e o impossível em sua “Trilogia Íntima”, mas foi em “O Manto” que seu contínuo trabalho de talhar palavras, personagens, e sobretudo o mundo visual que este trabalho propõe e nos encara, conseguiu de fato atingir seu objetivo: escrever o livro que ela sempre quis ter escrito.
Em suas próprias palavras “’O Manto’ é um livro ilegível”, e ainda que para alguns isso pareça pedantismo ou muito deslumbramento para com uma obra que ignora a tradição mais comum da literatura brasileira, a declaração é cabível conforme o leitor, seja ele corajoso ou não. A legibilidade deste romance se encontra na despretensão, na leitura solta que não espera o óbvio e o mastigado de um mercado editorial quase sempre enfadonho, mas o inusitado, a vontade de correr um risco e de ir sem se preocupar com a volta, isto é, o manto.
Alguns trechos do livro O Manto, de Marcia Tiburi:
Os livros, calhamaços pesados ou leves, densos ou frágeis, não fazem mais do que repetir as táticas da vida e os escritores, artífices da mesma coisa, pensam ser deuses demiúrgicos capazes de inventar a história, o homem, a mulher e até a si mesmos. Não fazem mais que copiar, repetir à exaustão o que cada um que pode ler já sabe, tornando assim a coisa chamada literatura uma mera obviedade em que a curiosidade do leitor é só o que salva o escritor. (pp. 16-17)
Para que se possa ver o claro e o escuro de toda voz é que as palavras se fazem necessárias. (p. 55)
Espelhos são como livros, mostram o que há dentro deles enquanto iludem sobre o que está fora. (p. 59)
Só se escrevem romances por não haver memória suficiente e a imaginação é finita; compra-se e empresta-se a imaginação no mercado das trocas anímicas quando se perde a noção do que deveria ser sagrado. Aos poucos ela acaba ou cai na preguiça que acompanha a respiração diária das gentes. No meu caso, tudo foi mais óbvio. Antes como agora sei que escrever é gravar; por que não poderia considerar que gravar é escrever? (p. 79)
A escrita era a solidão no escuro com um sonho no meio. (p. 90)
Quantas pessoas perdem seu tempo em fugas, quando poderiam ter tido a sorte do abandono. (p. 184)
… a vida íntima é um fruto proibido cujo segredo é raro e vale o poder da morte quando exposto. (p. 335)
O contrário de tudo o que se pensa é a vida. (p. 606)