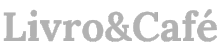O que me levou a escrever esse texto foram duas séries que assisti uma em seguida da outra. A primeira, Little Fires Everywhere; a segunda, Normal People. As duas séries estão no catálogo da Amazon Prime Video. Ambas lançadas em 2020, mas completamente diferentes, não apenas na história como, no que quero apresentar aqui, na sua leitura de mundo, por assim dizer.
Little Fires Everywhere, protagonizada por Reese Witherspoon e Kerry Washington, e adaptada do livro de Celeste Ng, conta a história de mulheres lidando com as suas decisões e consequências, focando nas diferenças sociais, de raça e gênero. A série deixa claro que as escolhas de uma mulher rica e branca não são as mesmas de uma negra e pobre, ou de uma chinesa imigrante. A maternidade é o elemento que conecta todas essas personagens. Cada uma, a sua maneira, lida com o fato de ser mãe, com a responsabilidade de educar seus filhos, de decidir o que é melhor para eles etc.

Já Normal People, muito mais humilde nos seus objetivos, apresenta a história de amor de dois jovens, Connell e Marianne (interpretados por Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, respectivamente), em uma adaptação do best-seller homônimo de Sally Rooney, de 2018. Toda a insegurança de um relacionamento, a complexidade dos sentimentos que nutrimos por uma pessoa, que muitas vezes nem sequer conseguimos entender quando o sentimos, e todas as besteiras que fazemos, seja acreditando estar fazendo o correto, seja evitando a dor, estão presentes no romance que começa na adolescência e se prolonga pela vida adulta. Claro, a série está cheia de encontros e desencontros.

O papel do espectador diante das histórias
Fazer esse caminho, de Little Fires Everywhere para Normal People, fez-me refletir sobre duas formas possíveis, mas muito diferentes, de compreender a vida. Com a primeira série, em diversos momentos, eu sentia que aquela história tinha sido criada a partir de determinados conceitos; imaginava os produtores chegando aos roteirista e dizendo: “quero uma história sobre as questões de gênero, raça, classe, representatividade etc.”. E, de fato, há momentos que a série praticamente explica alguns desses conceitos.
Não sei dizer se essa exigência prévia realmente acontece, mas não é a primeira vez que sinto isso com algumas produções recentes. Por exemplo, o filme da Netflix que fez todo mundo discutir sobre o divórcio, História de um casamento. O monólogo da advogada sobre o peso de ser mãe, cuja base é Maria, a mãe perfeita, a virgem que deu à luz, é um claro aceno da direção ao seu público: “hey, pensei nesse texto pra vocês!”. Os personagens dessas obras parecem ser pessoas tese, elas fazem mais ou menos o que o conceito quer que elas façam.
Há um outro tipo de produção que “apenas conta uma história”. Imagino que o leitor já esteja pensando que sou um inocente que acredita na existência de história sem ideologia. Longe de mim dizer isso, mas me parece completamente diferente “apenas contar uma história” de contar uma “história tese”. Normal People conta uma história, que poderia ser dita como intuitiva. Há elementos políticos, sociais e questões de ideologias por trás? Não tenho a menor dúvida disso. A diferença é que esse trabalho tem de ser feito por mim: a reflexão fica por minha conta.
Leituras de mundo e suas respostas
Normal People é de uma sensibilidade rara de se encontrar. Em alguns momentos, é até doloroso. Por que tomamos decisões tão esquisitas? O que faz ser tão mais difícil estar com uma pessoa que você realmente gosta do que estar com outra que você pouco se importa? Dá pra consertar os nossos erros? Por que, para algumas pessoas, a vida é tão mais dura que para outras?
Em Little Fires Everywhere, essas questões aparecem, afinal a série é boa. Os personagens também tomam atitudes estranhas e sofrem por isso. A diferença é que, nessa produção, as perguntas já foram respondidas. A personagem tal agiu assim porque ela é uma mulher negra, ou a outra porque é branca e rica. O episódio terceiro (“Setenta centavos”) é exemplar dessa lógica. Ele começa com uma mulher, chinesa, que vive ilegalmente nos Estados Unidos, tomando decisões drásticas porque não conseguia alimentar sua filha recém-nascida. Ela entra num mercado para comprar uma lata de leite e, porque lhe faltava setenta centavos, não consegue comprar o alimento para sua filha e decide deixá-la na porta do Corpo de Bombeiros. É um situação horrível, uma decisão limite! Não suficiente, a atendente a xinga e a expulsa do local.
No mesmo episódio, no fim, a filha mais nova da personagem rica-branca entra em um ônibus e diz para o motorista que lhe falta setenta centavos. O homem a olha e diz que tudo bem. Enfim, já está decidido, não existe a possibilidade de alguém sentir compaixão pela mulher porque ela é chinesa imigrante e não há risco de hostilidade com a garota porque ela é branca. A série levantou o problema e ela mesma respondeu; não há espaço para reflexão.
Veja, são duas formas válidas de representar a, por vezes, angustiante condição de estar no mundo. Uma acredita que cometemos erros por causa das condições prévias, outra que erramos porque erramos. E, acredito, as duas têm sua parcela de razão. Seria um absurdo dizer que as condições sociais não implicam nas nossas decisões. Mas também seria uma loucura acreditar que, como no exemplo do capítulo dos “setenta centavos”, a compaixão é uma questão de classe e não de pessoa. É um fio da navalha e dizer isso nos tempos estranhos que vivemos leva ao perigo de cair, de um lado, em moralismo ou, do outro, em proselitismo político. O fato é que erramos e não temos muita certeza sobre os motivos. Inclusive este texto, daqui a pouquíssimo ou muito tempo, pode se tornar um erro total.