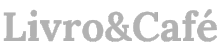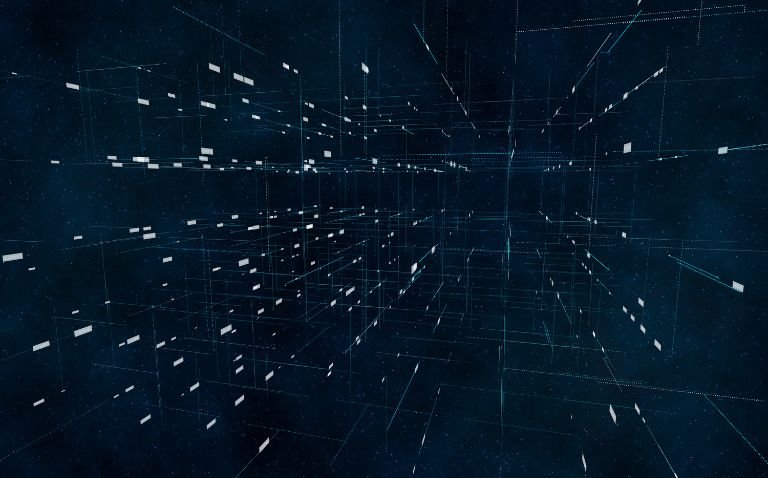No texto abaixo, a professora e escritora Carolina Magaldi discute sobre representatividade feminina nos livros de ficção científica e a necessidade de fazer diferente.
Para avançarmos na representação feminina em ficção científica, o caminho mais certeiro e produtivo seria olhar para trás.
Parece contraproducente ou mesmo risível que essa seja a tese defendida aqui, mas a aparente contradição só ocorre porque nos convencemos de que vivemos na era mais evoluída, inclusiva e diversificada da história da humanidade, o que não necessariamente corresponde à realidade.
Já na Grécia antiga, Corinna, nascida por volta de 518 A.C., já inovou em seus poemas míticos, trazendo narrativas com personificações de elementos naturais, como batalhas entre montanhas cantoras, destoando sobremaneira da mitologia reinante e abrindo novos caminhos para a interpretação do que viria a se chamar fantástico, dois milênios e meio mais tarde. O fato de que ela é a segunda poeta da antiguidade grega com maior volume de fragmentos remanescentes, atrás somente de Sappho, demonstra sua relevância no esforço de preservar sua forma de perceber o mundo.
Em 1666, por sua vez, Margaret Cavendish publicou seu “Mundo Flamejante” (The Blazing World”, no título original abreviado), que não só trazia uma narrativa absolutamente inovadora, como também uma protagonista feminina empoderada que se tornava imperadora do mundo que ela havia descoberto e adentrado. Mais do que uma narrativa impressionante, ela havia escrito seu mundo flamejante como contraparte literária para um estudo filosófico e das ciências naturais, buscando aproximar o público feminino do fazer científico da época.
Além delas, não podemos concluir nenhuma lista sobre pioneiras da ficção científica sem uma das primeiras grandes narrativas do gênero, o Frankenstein de Mary Shelley. O livro, que povoa minha lista de obras preferidas desde os tempos da graduação em Letras, traz reflexões profundas sobre criação e liberdade, ciência e sabedoria, amor e poder, vida e morte, tendo sido escrito em um período de intenso luto pessoal, fazendo com que a dor e a resiliência que permeiam a obra reverberem por séculos após sua publicação.
Com essas mulheres determinadas e inspiradoras, a ficção científica construiu um de seus alicerces mais poderosos: a capacidade e a inventividade de imaginar novos mundos a partir das brechas da sociedade, impulsionando mudanças que muitas vezes migraram das páginas e telas para a realidade social.
É exatamente isso que estamos perdendo. Em nosso afã de produzir narrativas em que todas as caixinhas de diversidade e empoderamento sejam tocadas, nos esquecemos de que a mudança impulsionada pela grandeza desse gênero vinha como resultado da utilização da narrativa como ferramenta para repensar a sociedade. As mulheres que impulsionam a criação e a evolução da ficção científica tinham a literatura como forma de interpretar o mundo, pensando por meio da narrativa e não para gerar livros. Essa é a chave que precisamos recuperar. Para nossa sorte, ela foi guardada com muito cuidado, envolta em interpretações de mundos sem fim.
Por: Carolina Magaldi é professora de tradução literária (inglês/português) na Universidade Federal de Juiz de Fora, lecionando e orientando no âmbito da graduação, mestrado e doutorado. Trabalha também com educação intercultural e bilíngue na graduação e em mestrado profissional em educação. Atua como tradutora há cerca de 20 anos e começou a escrever, publicar contos e seu primeiro romance durante a pandemia, seguindo o conselho que sempre dá aos seus alunos: não deixar os sonhos na gaveta. Seu livro Dharma, publicado pela Editora Paratexto, é o primeiro livro de uma trilogia.