Uma descoberta que ainda não fazia parte do repertório da vida de Elisabete era sobre se o dia poderia começar de uma outra forma. Ela, funcionária pública desde que sua mãe a inscreveu num concurso municipal porque “é bom ter um dinheiro certo todo mês”, subia às sete e cinco no ônibus cinza e vermelho e permanecia uma hora dentro dele, sentada em poltronas duras, ouvindo o ronco de uma senhora que sempre sentava atrás dela. “Ela me persegue”, pensava e abria um livro para ler um pouco enquanto não chegava em seu destino.
O asfalto brilhava, o sol parecia penetrar em sem coração, o livro a encantava. Porém, a cada curva, era necessário voltar um parágrafo, porque o banco liso fazia o seu corpo escorregar lentamente para a direita e ela não queria encostar, nem por um segundo, no braço do senhor sentado ao seu lado.
Ela lia “No chão Henry se mexia e gemia. Ele começou a se sentar, depois pensou melhor. Engatinhou até o canto mais distante do quarto e se encolheu como uma bola“. Era um conto de Stephen King, o escritor preferido de Elisabete que, de um jeito patético, se identificava com o terror em seus livros.
Quieta, calada, muda, quase invisível naquela cidade, no trabalho e em sua própria casa, ficava imaginando histórias horríveis para as pessoas em sua volta. O senhor sentado ao seu lado, por exemplo, poderia ter matado a própria mulher com uma faca de cozinha e a jogado num poço antigo no quintal de sua casa.
Quando uma senhora desceu do ônibus, imaginou que ela cairia. E seria esmagada pelo pneu do próprio ônibus. Chegou a pensar no movimento leve e tranquilo das rodas na mesma sintonia do sangue se espalhando pelo chão.
Elisabete era assim: calada mas cheia de imaginações absurdas até para si mesma. Quando caminhava para o trabalho, precisava passar por uma pequena ponte de madeira, bonita, que fazia parte do jardim principal da cidade, com referências japonesas e francesas, porém não era possível admirar a beleza do lugar, pois o seu pensamento era que a ponte iria quebrar, afundando-a naquele lago, que era raso, mas a garota acreditava numa profundidade suficiente para matá-la.
Durante o trabalho era necessário subir num pequeno banco para pegar alguns documentos que ficavam localizados numa parte muito alta do armário. O que Elisabete pensava? Que ela iria se desequilibrar, cair, bater a cabeça e morrer. Com direito a muito sangue espalhado pelo chão branco e o choro comovido de suas colegas de profissão.
Todos os dias Elisabete passava pela ponte achando que iria morrer, mas nada acontecia. Ela subia no pequeno banco e não morria também. Durante o almoço imaginava descobrir alguma alergia misteriosa que trancasse a sua garganta para então morrer ali, asfixiada, na frente de todo mundo.
Certo dia, atravessou a rua sem olhar para os dois lados, se rebelando às orientações de sua mãe, mas nada aconteceu. Quando viajou de avião, pensou na queda, uma clássica tragédia, mas nada aconteceu também.
E quando não pensava em tragédias, Elisabete pensava num outro tipo de profissão. Ela queria trabalhar numa grande empresa, com paredes de vidro, como nos filmes futuristas e não naquele espaço apertado, naquela cidade tão pequena que possuía apenas um cinema e nenhum shopping!
Ela queria ser como aquelas moças ricas dos filmes de Hollywood, de carro conversível, batom vermelho, lenço na cabeça e mascando chicletes, mas a realidade era tão diferente.
Elisabete acordava todos os dias muito cedo, trabalhava num lugar pequeno e um pouco escuro. O ônibus era até charmoso, mas ela se sentia cansada. Milhões de tragédias em sua cabeça e nada em sua rotina. O problema é que nada acontecia. Nada acontecia, a tragédia de Elisabete.
Inspirado no conto 1922, de Stephen King
por Francine Ramos
Fevereiro/2016
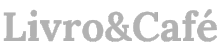
![[Conto] A tragédia de Elisabete](https://livroecafe.com/wp-content/uploads/2023/11/livroecafe-cores2.jpg)