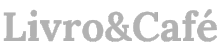K – relato de uma busca, lançado originalmente em 2011 pela editora Expressão Popular, em 2013 ganhou nova edição pela Cosac Naify, e finalmente, em 2016, chegou à Companhia das Letras. Ao longo desses anos, K. se firmou como um clássico contemporâneo da literatura brasileira.
Para Adriano Diogo, coragem sempre
Li K.: Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, ano passado. Minha amiga e colega, Mirhiane Mendes de Abreu, pretendia promover um evento relativo ao prêmio Oceanos, do qual o livro era finalista em 2018. Não pudemos realizar o evento, infelizmente, mas a leitura trouxe tantas lembranças e evocações de experiências vividas que ousei ensaiar meus sentimentos na forma desta resenha/protesto.

Em K., Bernardo Kucinski ficcionaliza a busca de seu pai, K., por sua irmã, Ana Rosa Kucinski, militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN) desaparecida em 22 de abril de 1974, durante a ditadura militar. Ela e o marido, Wilson Silva, foram sequestrados pela repressão na Praça da República, no centro de São Paulo; ela ainda estivera na USP, onde era professora no Instituto de Química, pela manhã, última vez em que foi vista. Mas naquele ano não se sabia nada disso: na USP diziam apenas que ela não retornara ao trabalho desde aquele dia, não fora mais vista. A Universidade declarou que ela abandonara o cargo e por isso a demitiria no mesmo (sic), e o pai iniciou a busca relatada por Bernardo Kucinski.
Leia mais: 25 Livros Sobre a Ditadura Militar no Brasil
O autor construiu uma narrativa em que vizinhos, comerciantes, rabinos, padres, militares de patentes distintas, colegas da USP, entre outras pessoas às quais o pai recorria em busca de informações, ou de contatos junto ao governo que permitissem encontrar ao menos indicações de seu paradeiro, entram e saem do texto movimentadas pela memória, e permitem ao leitor observar os medos e fabulações dos brasileiros na época. E nada, quase ninguém sabia, vira ou ouvira qualquer coisa, os pouquíssimos que algo diziam, desmentiam-se ou mudavam versões. Teria ido para Portugal? Havia sido presa?
Pareciam reconstruir a vida da filha, assim como a militância que o pai se culpava por não ter percebido. Ela estava casada desde 1970, com um marido que desaparecera junto com ela, e nem isso o pai sabia. Seria o marido responsável pelos caminhos políticos da filha? Ou seria sua ausência de pai sempre às voltas com a poesia? No Bom Retiro, onde vivia, toda a gente sabia da militância e do desaparecimento, e onde buscou solidariedade encontrou silêncios e acusações, como quando tentou imprimir material com foto da filha para distribuir:
“Como o senhor teve o atrevimento de trazer material subversivo para a minha gráfica? Pegue isso e dê o fora, nunca mais apareça com esse tipo de coisa. Onde já se viu, material subversivo, uma desaparecida política, uma comunista. Ela não era comunista?”
Ou quando pediu ajuda ao rabino para um cerimonial de morte sem o corpo desaparecido:
“O que você quer na verdade é um monumento em homenagem à sua filha, não é uma lápide, não é uma matzeivá; mas ela era terrorista, não era? E você quer que a nossa comunidade honre uma terrorista no campo sagrado, que seja posta em risco, por causa de uma terrorista? Ela não era comunista?”
Trata-se, assim, de um texto ficcional cuja narrativa nos coloca nas trilhas desenhadas pela busca, no tempo vivido pela família e em meio à angústia que a incerteza provocava: estaria viva? Poderia ser regatada? Uma invenção narrativa de quase tudo que aconteceu, como afirma o autor. Um drama que se afigura ao leitor, ainda, na forma de um dilema que indaga sobre os sentidos da busca: é um drama pessoal e familiar, ou é coletivo? Vivemos todos a ditadura, ou apenas aqueles ligados aos “terroristas”? Vivemos todos, e precisamos falar sobre isso.
A narrativa que Bernardo Kucinski denomina de relato de uma busca nos desloca para o cotidiano das vidas dos brasileiros e demonstra a impossibilidade de não se saber o que acontecia, de não notar a vida em ditadura, em circunstância de exceção.
A queda em cascata de militantes diante da teia de informantes, violência, e repressão, evidência da tortura como elemento político de descoberta do paradeiro dos “terroristas”, dizimava a resistência armada. Mas se a vizinhança parecia complacente com as ações da ditadura aos olhos do pai que buscava, viria da resistência democrática o apoio aos familiares de mortos e desaparecidos e aos sobreviventes mantidos presos. A articulação dos nascentes comitês de direitos humanos com movimentos sociais que cresceram especialmente na segunda metade da década de 1970, como os movimentos contra a carestia e pela saúde pública, ofereceu voz e algum conforto aos que, como K., buscavam pelos seus familiares enquanto arrumavam os quartos daqueles talvez já mortos.
O sossego não viria, o corpo de Ana Rosa nunca seria encontrado, mas as articulações políticas dos setores democráticos da sociedade, que derrotaram a ditadura e forjaram a Constituição de 1988, permitiriam o reconhecimento oficial da responsabilidade do Estado no sequestro e morte de Ana Rosa e seu marido naquele ano de 1974 (os Relatórios da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” [1] oferecem detalhes sobre o caso de Ana Rosa e Wilson, apontando as provas da responsabilidade do Estado).

Ler K., de Bernardo Kucinski, hoje
Ler o livro de Bernardo Kucinski me transportou ao meu primeiro ano de graduação no curso de História da USP. Era 1984, e estávamos na rua, pedindo Diretas Já! Parecia um consenso que, mesmo com a derrota da luta armada, à qual parte dos opositores à ditadura não aderiram – embora muitos tenham se esforçado por proteger aqueles perseguidos pelo regime, e por isso também pagaram muitas vezes caro ou com a vida -, os vencedores éramos os democratas: vencia a ideia de que em democracia e com maiores níveis de justiça social, educação e cultura, chegaríamos, enfim, a um futuro melhor.
Hoje, no entanto, vivendo a vertigem do Brasil pós manifestações de 2013, é incontornável a sensação de que comemoramos cedo demais…. Nós, que amamos as liberdades, com todas as dores, alegrias, perigos e possibilidades que elas impõem, comemoramos cedo demais, pois não havíamos ganho a batalha pela memória. Naquelas manifestações já havia algo no ar a incomodar. Frases que afirmavam os tais protestos como “sem partido”, se de um lado escancaravam um sistema que se corroera na incapacidade de oferecer melhores condições de vida e participação política à população, de outro lado, no entanto, pareciam acrescentar um ingrediente que fora forte na legitimação da ditadura e que pensáramos ter derrotado: “melhor um governo forte”, “nenhum político merece confiança” e a fatídica “na época da ditadura era melhor”.
E, de repente, elegeu-se um presidente cujo ídolo é notório torturador, com apoio de defensores da ditadura militar e de jovens que não a viveram, mas que parecem sonhar com ela. Na esteira disso, aquilo que André Singer, entre outros jornalistas e intelectuais, vem denunciando como uma naturalização da violência e das ações de “exceção” pela Polícia Militar em nossas vidas cotidianas: invasões a reuniões públicas e agendadas, abordagens sem justificativa plausível de suspeição e mortes por bala perdida em comunidades pobres de tão pretas, pretas de tão pobres….
Tudo isso leitor, é possível divisar no relato da busca de um pai pela filha, e de um irmão por redenção. Bernardo publicou a primeira edição em 2011, ainda acreditávamos que havíamos vencido a ditadura, que nunca muitos se levantariam em favor dela, embora seus resquícios assombrassem em ações da PM, na inominável desigualdade social brasileira, mesmo com seus respiros da era Lula, ou ainda nas dificuldades de financiar os trabalhos de identificação dos corpos da vala clandestina de Perus. Mas o fantasma do “comunismo”, desculpa para as piores atrocidades contra direitos humanos e argumento legitimador da luta contra qualquer processo de inclusão social, está nas entrelinhas de K., e também em nossas vidas de hoje.
“Ela não é comunista?”
“Ela não é comunista?”, perguntavam ao pai que buscava, e com isso se legitimava o desaparecimento, o sequestro e qualquer atrocidade que tenha sido feita com ela… “Fulano foi preso porque fez merda na ditadura”, afirmou alguém cujo nome prefiro esquecer, em algum dia dos dois últimos anos.
Grandes conceitos, “comunista”, “terrorista”, “drogado”[2], pretendem explicar experiências de grupos e povos diversos, e ao fazê-lo desumanizam as pessoas que são colocadas sob seus rótulos. A desumanização, como muitos já alertaram e eu destaco Arendt, é o primeiro passo para que se aceite violações de direitos humanos contra tais “comportamentos desviantes”; conviver com eles em democracia, ouvir, pactuar, formar consensos, são atitudes muito complicadas para os que buscam explicações fáceis para vidas complexas.
Leia mais: Sem liberdade, eu não vivo – mulheres que não se calaram na ditadura: um recorte que ecoa em todas nós
É na dimensão cotidiana da vida que se constrói a percepção de que não havia ditadura, ou de que ela era boa, ou ainda de que o que fazia era para o bem de todos. Mas de que sociedade estamos falando? Um pai não consegue imprimir os folhetos para ajudar na busca pela filha sumida…. Quantos outros casos esquecidos? Populações indígenas oprimidas por estarem perto da guerrilha, vizinhos ouvindo confissões de torturadores e forçados ao silêncio pelo medo, canções censuradas, pessoas que desaparecem, pequenas histórias que se escutam aqui e ali.
Sublimamos a percepção dos que aceitaram como positivas as ações repressoras e violadoras de direitos humanos da ditadura militar? Em uma conjuntura há sempre muitas dimensões, e elas se imbricam, misturam, sobrepõem, avançam no tempo às vezes sub-repticiamente e, na construção das narrativas histórica e literária, em suas especificidades, escolhemos umas e sublimamos outras. Talvez uma das dimensões sublimadas tenha voltado para nos assombrar, por conveniência, e conveniência que se expressa nos interesses do nosso tempo vivido e busca no tempo da ditadura legitimação. Mas é importante que se afirme: não há ingenuidade na defesa da ditadura militar, há visão de mundo que aceita a barbárie da pobreza e a violência como argumentos políticos.
Enfim….
Aos um tanto covardes como eu que, por medo do que a história ensina sobre o dia seguinte dos processos revolucionários violentos, apostam suas fichas no republicanismo e na democracia social das instituições e dos cidadãos, os tempos que vão não são nada alvissareiros. O “devido processo legal” encontrou inimigos da democracia dentro das próprias instituições que deveriam preservá-lo…. Mas a literatura nos oferece conforto, ela nos permite ler dimensões de nossas vidas nas quais nossa razão não opera. É, portanto, lugar de construção política também, não da política previsível dos que acreditam que formam cidadãos de modos específicos e planejados, como denunciado no livro Nós, de Zamiátin, sobre o qual já falei neste post, mas da que aceita os medos da pluralidade sem a necessidade da imposição da força.
Enfim, sem terminar, arrisco apenas sugerir a coragem de Adriano Diogo, que nunca desiste.
Compre “K – relato de uma busca”, de Bernardo Kucinski, na Amazon
– – – – – – – – – – – – – – –
[1] Disponíveis em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ e http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/
[2] Recomendo sobre isso a leitura de outro livro de Bernardo Kucinski, Pretérito Imperfeito. Trata-se de outra narrativa ficcional sobre o verdadeiramente vivido, embora não cronologicamente relatada, em busca de respostas para o tema do uso de drogas envolvendo um filho seu.