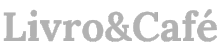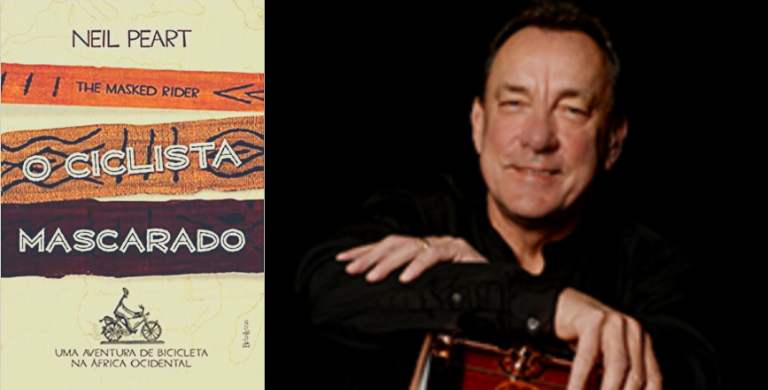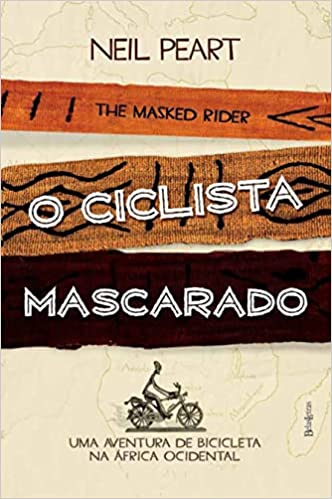Você deve estar se perguntando: nossa, essa menina só sabe falar do Neil Peart? É, a questão é justificável, já que, em janeiro, fiz um post-homenagem sobre alguns livros que o baterista leu, recentemente escrevi a respeito da obra Música para Viagem e, desta vez, trago uma resenha sobre o livro O ciclista mascarado.
O ponto é que eu decidi ler e reler os livros escritos por Peart e que foram lançados no Brasil. Foi a maneira que encontrei de lidar com a perda de um dos músicos que mais admiro e, também, de viajar através da leitura em tempos de confinamento (pelo menos eu ainda estou adotando o isolamento social numa cidade que sequer teve uma quarentena decente). Digo isso porque a obra literária produzida por Neil poderia se enquadrar no gênero “literatura de viagem”. Em seus livros, acompanhamos as experiências, descobertas, angústias ao longo do percurso, geralmente sob duas rodas.
Quando encerrei Música para Viagem, que me levou de Santa Mônica, Califórnia, até Big Bend, no Texas, quis viajar com Neil para outro lugar. Então peguei meu exemplar de O ciclista mascarado, lançado pela primeira vez em 1996 pela editora Pottersfield Press, no Canadá, e, no Brasil, em 2016 pela editora Belas Letras (com tradução de Candice Soldatelli). O livro me prometia uma viagem pela África: uma jornada de bicicleta cortando Camarões, país localizado na parte ocidental do continente, realizada em 1988. Ok, por que não?
Andar de bicicleta é um bom modo de viajar em qualquer ligar, mas principalmente na África, onde você se torna independente e móvel, e assim viaja na “velocidade das pessoas” – rápido o bastante para se deslocar até a próxima cidades nas horas mais frescas da manhã, mas devagar o suficiente para conhecer as pessoas: o velho agricultor na beira da estrada que ergue a mão e diz “Vocês são bem vindos”, a mulher incansável que oferece um sorriso tímido ao ciclista, as crianças das risadas que transcendem a casinha mais humilde. As boas-vindas incondicionais aos viajantes cansados são parte do charme, mas também são algo essencialmente africano: os vilarejos e mercados, o modo como as pessoas vivem e trabalham, a aceitação alegre (ou pelo menos estoica) da adversidade, e sua rica cultura: a música, a magia, as esculturas – as máscaras da África. (p. 11)
Ao começar a leitura, já foi possível perceber que a experiência de Neil seria complexa, pois faria uma excursão com David, o paciente guia de viagem, Leonard, um afro-americano que atuou na Guerra do Vietnã, Anne, uma analista de sistemas de bom coração, mas um pouco insegura e folgada, e a rabugenta e lenta Elsa. Quem já participou de viagens em grupo sabe que não é fácil e, aqui, Neil iria passar um mês convivendo com outras quatro pessoas de personalidades distintas e em condições muitas vezes insuportáveis.
Pelas estradas – que nem sempre poderiam receber esse nome – e pela busca incessante por um lugar para dormir, comer e beber (perdi as contas de quantos refrigerantes os ciclistas tomaram!), vamos conhecendo Camarões: as culturas de seus povos, as divisões sociais e de gênero (Neil comenta que parece que só as mulheres trabalham nas cidades pelas quais passou, enquanto os homens ficariam ociosos), a influência de missões religiosas, preocupadas em construir grandes igrejas em locais miseráveis, a gentileza dos moradores e a cultura do suborno dos policiais e soldados… Ficam evidentes os traços de um país diverso em aspectos climáticos, ambientais, políticos, religiosos. Enquanto o sul tem um clima úmido, com uma rica fauna tropical, adepto do cristianismo, a zona ao norte, à mercê do deserto do Saara, tem um clima mais árido, com paisagem de savana, e sob influência do islamismo. Entre ambas as regiões, uma forte tensão, marcada por guerras civis, por golpes e governos corruptos.
O olhar de um branco
Não podemos esquecer que é o olhar de um branco, dentro de todos os padrões ocidentais, refletindo sobre uma sociedade negra, com outras configurações sociais, políticas, econômicas, culturais. Neil tem uma postura crítica em vários momentos, como quando se surpreende pelos camaroneses não terem ideia de que era possível existir negros na América, o que mostra um claro apagamento da história da escravidão em decorrência da educação, com forte viés religioso, fornecida pelos vários países europeus que dominaram o país. Sem contar o próprio fatiamento da África durante a corrida neocolonialista, um dentre vários episódios violentos que marcaram o continente.
“Mais tarde, no século 16, o navegador português Vasco da Gama passou por lá e ancorou sua nau no rio Wouri. Ficou parado junto à balaustrada admirando os pequenos crustáceos na água e decidiu batizar o rio em sua homenagem: Rio-des-Cameroes, “Rio dos Camarões”. Foi assim que os portugueses chamaram sua ‘descoberta’ de Camarões, até que em 1887 os alemães se apropriaram da região e a chamaram de Kamerun. Depois da Primeira Guerra Mundial, o país foi tomado da Alemanha e dividido entre os franceses, que o chamaram de Cameroun, e os ingleses, que o chamaram de The Cameroons. Não se tem registro de como as pessoas que lá viviam chamavam seu país, mas sem dúvida não tinha nada a ver com pequenos crustáceos.” (p. 18)
Por outro lado, o músico se incomoda e se revolta em vários momentos por ser apontado como “Homem Branco” por moradores dos locais visitados pelos ciclistas e pela abordagem, nem sempre amistosa, de policiais e soldados ao longo de barricadas nas estradas. Mas essa violência é diária para pessoas negras, inclusive em países ditos desenvolvidos, como os EUA. Basta ver toda a mobilização em torno do assassinato de George Floyd por um policial branco. Ou pelos cotidianos casos de abuso de autoridade no Brasil, que vitimam crianças, jovens, homens e mulheres racializados. E já não estamos em 1988. Em 2020, diante de câmeras cada vez mais poderosas em celulares minúsculos, a violência racial se manifesta. E, nós, brancos e brancas, não temos ideia do que isso significa, qual o impacto dessa necropolítica.
A política presente em O Ciclista Mascarado
E a política está presente com força nas paisagens e páginas de O ciclista mascarado. Em outros momentos, as palavras de Neil – escritas no final dos anos 80 – parecem falar especialmente para nós:
“Talvez em algum momento do passado houve um chefe ou uma sucessão de chefes mesquinhos, insensíveis, desconfiados ou rudes. Esses líderes tratavam mal o seu povo, assim, se as pessoas emulam ou não as atitudes do seu chefe, acabam sendo forçadas a emular seu comportamento. A visão do mundo do líder, por mais deturpada que seja, torna-se um exemplo e consequentemente cria o modo como os cidadãos tratam uns aos outros. Se os homens lidam com seus vizinhos com desonestidade ou desconfiança, as mulheres agem da mesma forma no dia de feira, e seus filhos e suas filhas sucessivamente. Torna-se, portanto, o modo com o qual as pessoas se relacionam umas com as outras, defensiva e cinicamente, numa atitude de eu-contra-o-mundo, e antes de se darem conta o vilarejo inteiro opera nesse modus vivendi. (Há até mesmo um paralelo internacional aqui.) O posto também acontece: os atos de um chefe confiante e agradável, que trata seu povo com justiça e carinho, cria um ambiente propício para a camaradagem, com espaço para o respeito próprio.” (p. 113)
Não vou dizer que é uma leitura fácil. Especialmente já no final do livro, quando a saída dos ciclistas do continente ganha contornos desesperadores, fiquei me perguntando o que leva alguém a buscar tamanha aventura. Mas ao perceber o quanto uma viagem pode ensinar sobre o outro e, principalmente, sobre nós, descortinando os nossos preconceitos, as nossas crenças, os nossos anseios (tirando as máscaras, afinal), é impossível não querer pegar a estrada mais próxima. Como ainda não é possível, sugiro pegar uma carona nas páginas escritas por Neil. Eu já garanti a minha, e você?